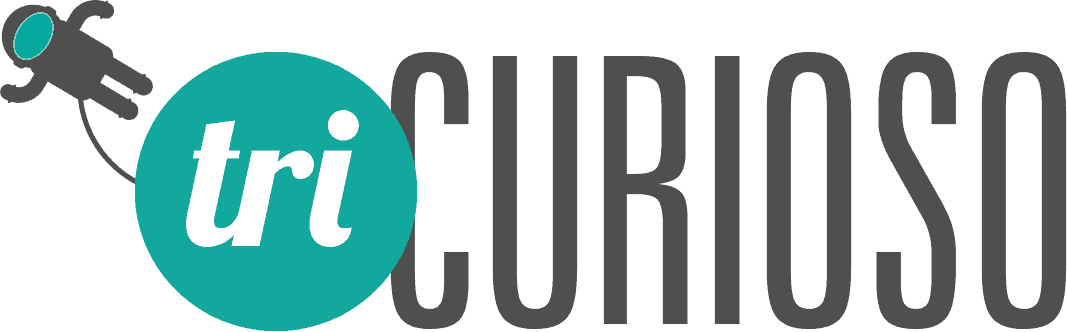Entre 1903 e 1980, foram registradas cerca de 60 mil mortes em um hospital psiquiátrico, conhecido como Hospital Colônia de Barbacena, localizada em Minas Gerais. Esse caso se tornou um livro que leva o nome Holocausto Brasileiro, escrito por Daniela Arbex. O livro recebeu mais de 20 prêmios nacionais e internacionais, dentre eles três Essos, o IPYS de melhor investigação da América Latina e o Knight Internacional.

Fundada em 12 de outubro de 1903, na cidade de Barbacena, em Minas Gerias, o Hospital Colônia era um hospital psiquiátrico que fazia parte de um grupo de sete instituições psiquiátricas na cidade, dentre elas apenas três continuam em funcionamento.
Edificado em terras da Fazenda da Caveira, propriedade de Joaquim Silvério dos Reis, o Hospital Colônia começou como um hospital para tuberculosos, mas, pouco tempo depois, se tornou um hospital psiquiátrico e tornou-se conhecido na década de 1980, pelo tratamento desumano que oferecia aos pacientes.
De manicômio para depósito de gente “indesejada”. Gays, alcoólatras, militantes políticos, mães solteiras, mendigos, negros, pobres, índios, pessoas sem documento, entre outros, foram internados nesse hospital. Por conta desse e outros motivos que veremos em breve, o local foi comparado com um campo de concentração nazista. Cerca de 70% dos pacientes não tinham diagnostico de qualquer doença mental.
Os pacientes eram trazidos de diversos locais do Brasil. Eles chegavam em Barbacena por meio de trens, em vagões cheios de pessoas. Esses trens ficaram conhecidos como “trem de doido”, para significar viagem ao inferno.

Ao chegarem no local os pacientes eram separados por sexo, idade e características físicas. A rotina deles era desumana, contendo torturas física e psicológicas que acabaram se tornando comuns
Entre as torturas podemos destacar a ducha escocesa (banho por máquinas de alta pressão), estupros, tratamentos de choque — que eram comuns em hospitais psiquiátricos naquela época — os pacientes eram mantidos nus, mesmo que estivesse muito frio ao ponto de morrerem, crianças e adolescentes também eram mantidas nuas e no mesmo local que os adultos, a comida era feita no chão, suas cabeças eram raspadas, eles dormiam em capins que eram jogados no chão dos pequenos quartos, seus pés ficavam descalços, eles bebiam água do esgoto, que jorrava no pátio, e a própria urina. O cheiro do ambiente era detestável e os banheiros eram coletivos. E essas são algumas das coisas que se tornaram comuns no “hospital”.
Apesar de todas essas crueldades, os pacientes ainda sentiam empatia, por exemplo, quando estava muito frio eles dividiam grupos, faziam uma roda e colocavam no centro quem estava sentindo mais frio e aqueciam essa pessoa.
Os internados acordavam por volta das 5h da manhã e eram enviados para os pátios, onde ficavam até às 19h todos os dias, não importa se estivesse fazendo muito frio ou muito calor. A alimentação era precária, o que acabou resultando em desnutrição e doenças em vários dos pacientes. Em ato de desespero algumas pessoas comeram ratos e pombos vivos. Eles não tinham privacidade e até 1979 eles faziam suas necessidades na frente de todos.

O manicômio chegou a ter 5.000 ao mesmo tempo, sendo que sua capacidade original era de 200 pacientes. Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam todos os dias. Ninguém denunciou os acontecimentos. Os médicos viam as atrocidades cometidas e apenas repetiam os atos.
Daniela Arbex conta que encontrou registros de venda de 1.853 corpos, entre 1969 e 1980, para faculdades de medicina. Atualizando para hoje, eles faturaram em torno de 600 mil reais com as vendas de corpos. Quando a venda diminuiu, os funcionários passaram a decompor os cadáveres com ácido no pátio, diante dos próprios pacientes.
Em 1961, o fotografo Luiz Alfredo, da revista O Cruzeiro, foi até o local e presenciou vários dos acontecimentos citados. Ele conseguiu fotografar o estado desumano em que os pacientes se encontravam.

“Milhares de mulheres e homens sujos, de cabelos desgrenhado e corpos esquálidos cercaram os jornalistas. (…) Os homens vestiam uniformes esfarrapados, tinham as cabeças raspadas e pés descalços. Muitos, porém, estavam nus. Luiz Alfredo viu um deles se agachar e beber água do esgoto que jorrava sobre o pátio. Nas banheiras coletivas haviam fezes e urina no lugar de água. Ainda no pátio, ele presenciou o momento em que carnes eram cortadas no chão. O cheiro era detestável, assim como o ambiente.”
Esse é um trecho do livro-reportagem Holocausto Brasileiro, em que Luiz Alfredo relata o que viu ao pisar os pés no manicômio.
Apenas em 1979, quando a reforma psiquiátrica ganhou força em Minas Gerais, as atrocidades começaram a diminuir. Durante a década de 1980 o hospital foi fechado, e poucos dos sobreviventes foram transferidos para abrigos de melhores condições e passaram a receber indenização do Estado. Ninguém foi punido pelo genocídio.
Em 1979, o jornalista Hiram Firmino publicou diversas postagens intituladas “Nos Porões Da Loucura”, que falavam sobre o que se passava no Hospital Colônia. Já em 1979, um documentário chamado “Em Nome Da Razão”, dirigido por Helvécio Ratton, também falava sobre o que se passava no manicômio.